Como vínculo ao pensamento transdisciplinar, expomos uma atenção voltada àquelas categorias geográficas que mantém o contato da ciência com outras vias de conhecimento e, também, com outras abordagens socioespaciais. Nesse enfoque, fazemos da paisagem nossa intermediação com o espaço geográfico, trabalhando com a dimensão imagética que figura nesta categoria no intuito de problematizar os estratos críticos que sua função agencia[1].
Esta reflexão está ancorada, podemos antecipar, na intenção de examinar a paisagem contemporânea pesquisando suas fronteiras epistemológicas para teorizá-la não apenas nos domínios da geografia, expandindo sua reflexão ao campo artístico. E, de acordo com esta posição, acreditamos que “o esforço de desenvolvimento de uma disciplina implica, inevitavelmente, a constante reflexão sobre os problemas de interesse de outras disciplinas com as quais [a geografia] estabelece fronteiras e mantém intercâmbio” (HISSA, 2001, p. 57).
Neste mesmo sentido, ao assinalarmos nuances transdisciplinares no modo como a paisagem é abordada aqui, revelamos a importância de sensibilizar o pensamento geográfico para a convergência entre diferentes espaços teóricos. Poderíamos, para firmar esta convergência, mencionar, em linhas gerais, o pensamento de Milton Santos (1926-2001), para quem a paisagem é um das “categorias internas” constitutivas do espaço. Especialmente, a paisagem tem seu apelo na visão, e isso implica que seu método deve permitir abordar a materialidade mas sem omitir o ponto de vista da subjetividade de quem olha. A paisagem se torna inconclusa quando não perpassa tanto o “sistema das ações” quanto o “sistema dos objetos”. Ainda segundo este autor, “a paisagem é o espaço humano em perspectiva” (SANTOS, 2002, p. 106).
Seguindo o embasamento que o tema demanda, resumiremos que, como objeto do interesse da pesquisa geográfica,
"a paisagem pode ser entendida como o produto das interações entre elementos de origem natural e humana, em um determinado espaço. Estes elementos da paisagem organizam-se de maneira dinâmica, ao longo do tempo e do espaço. Resultam daí feições e condições também dinâmicas, diferenciadas ou repetidas, o que permite uma classificação, ao agrupar-se os arranjos similares, separando-os dos diferentes. No todo, forma-se um mosaico articulado. Este processo poderá ser tão detalhado ou amplo quanto interesse ao observador. Paisagem não é o mesmo que espaço geográfico, mas pode ser compreendida como uma manifestação deste. O espaço é o objeto de estudo da geografia, enquanto a paisagem poderia ser entendida como uma medida multidimensional de compreensão do espaço-tempo" (MAXIMIANO, 2002, p. 90).
De acordo com Pitte (apud AMARAL, 2002, p. 77), a paisagem “é essencialmente mutável e não pode ser apreendida senão na sua dinâmica. A paisagem é o ato de liberdade; é uma poesia caligrafada na folha branca do clímax”. Assim, é possível entendermos a paisagem como uma construção material e, também, como uma representação simbólica que se faz ao criarmos múltiplas imagens para as relações espaciais com que nos deparamos (ZUKIN, 2002). A totalização do espaço geográfico percorre imaginários subjetivos onde, particularmente, se produz uma imagem que permita ao homem estar vinculado de maneira mais efetiva – e afetiva – aos espaços que habita.
Nesta direção, durante a elaboração desse texto, pensamos que retroceder na história da geografia e na história da arte poderia desenvolver o pensamento socioespacial e, também, constatar o contexto secular que faz convergir estas duas disciplinas a partir da paisagem. Cabe notar, por exemplo, que Alexander Von Humboldt (1769-1859) – reconhecido como um dos fundadores da Geografia Moderna – tinha por hábito desenhar imagens que, de certa forma, exploravam o espaço geográfico e acabariam por consolidar o procedimento descritivo exposto na representação gráfica como um dos elementos de base para a evolução da ciência. Nitidamente, este hábito comum a muitos outros naturalistas da época criou meios de informar àqueles que não tinham acesso direto aos continentes explorados uma natureza repleta de diversidade.
Portanto, a representação da paisagem se encontraria nas raízes modernas do pensamento geográfico e, por outro lado, vincularia Humboldt no âmbito dos discursos da estética naturalista. Pesquisando as atribuições que essa dimensão estética possuía para Humboldt, e tratando das relações entre suas práticas científicas e o gênero artístico ‘pintura de paisagem’, Mattos (2004, p. 174) focaliza que:
"a intensa identificação com as visões holísticas de Goethe fornece também uma explicação para o valor artístico que Humboldt desejava imprimir à sua obra, pois, para o grande poeta alemão, o verdadeiro conhecimento dependia de uma íntima colaboração entre arte e ciência. A ciência, baseada em um método analítico, permitiria o reconhecimento das diferenças, mas somente a arte seria capaz de efetuar a síntese desses elementos dispersos e apresentá-los em um olhar essencial. Falando da tarefa do pintor de paisagem num capítulo central dos Ansichten der Natur (Quadros da Natureza), intitulado “Idéias sobre a fisiognomia das Plantas”, Humboldt afirma de forma poética: “Sob suas mãos (do artista), resolve-se o grande quadro mágico da natureza, como na obra escrita dos homens, em poucos e simples traços.”
Ou seja, para Humboldt – assim como também para Goethe – a literatura e a pintura eram ambas capazes de auxiliar o cientista em sua tarefa de síntese. " Se penetrarmos no campo da história da arte identificaremos a representação da paisagem desde as academias italianas e holandesas do séc. XV: ela surge ligada a um gênero de pintura que ilustrava - preferencialmente através de panoramas – paisagens naturais, temas rurais, territórios exóticos e temas bucólicos.
As formas de representação da paisagem foram evoluindo por meio de pinturas ao ar livre muito popularizadas com a invenção das bisnagas descartáveis para as tintas. As ferramentas do artista ficavam então portáteis e o contato com a paisagem observada cada vez mais proximal: era muito recorrente nas viagens dos artistas ao Novo Mundo organizarem-se composições a partir da observação direta, ou seja, dos registros feitos a partir de sua presença corporal naqueles espaços: desenhos, aquarelas, croquis[2].
Deste modo, na ação do artista em deixar o atelier e ir a campo para registrar suas imagens do mundo apontamos a convergência com a prática de ‘ir a campo’ empreendida como trabalho fundamental para os geógrafos. No entanto, esse enfoque genético da paisagem não sobrevive separado de um enfoque sobre a geografia atual. Este diálogo das categorias internas da geografia com categorias externas (a dimensão artística se encontraria neste nível) vem ganhando qualidades contemporâneas e suas especificidades sugerem questões mais atuais: as representações que geógrafos e artistas organizavam através da paisagem ainda teriam o mesmo conteúdo do passado? Como compreendermos, a partir da evolução das técnicas, os modos que eles desenvolvem hoje o registro da paisagem? Quais as colaborações continuam a se mover entre olhar científico-olhar artístico?
Buscando as respostas destes questionamentos alinhados, intuímos seguramente que "o conhecimento da arte — inclusive naqueles campos que tomam para si a objetividade, a cientificidade e a exatidão — possibilitaria uma margem crítica que poderia inserir o sujeito numa condição cultural mais ampla, oferecendo-lhe potencial de desenvolvimento de uma maior amplitude de contextos vividos. A subjetividade animada através do saber artístico ramifica as dimensões da experiência cotidiana para além dos ritmos da vida utilitarista moderna, estimulando o sujeito a ser capaz de subverter continuamente a função do tempo-máquina e manejá-la contra a sua produtividade programada. O sujeito do saber, assim, funde-se com o artista no sentido do viver e do pensar criativo" (HISSA e MARQUEZ, 2005, p. 18).
1.1:::::::::a relevância do evento e a percepção da pausa
Não obstante ao período contemporâneo, a temporalidade expressa na paisagem não abdicaria de funções que incorporam a desaceleração do olhar. A questão seria se formação da paisagem resultaria de um olhar que precisa pausar para que consiga localizá-la. Ao reconhecermos a contemporaneidade como o período histórico no qual a velocidade vem configurando-se como determinante (a celeridade dos fluxos, a propagação do consumo de imagens midiáticas, a transformação brusca de certas paisagens urbanas) propiciaríamos, por conseguinte, esquematizar que a paisagem organiza-se como subversão a uma velocidade condicional e predeterminada. Quando o olhar pausa e assimila um tempo lento (SANTOS, 2002) nossa visão conforma representações da paisagem a partir de um ponto exterior ao obcecado contínuo temporal (BACHELARD, 1994).
Multiplicando esta perspectiva, atentamo-nos para reconhecer como a arte contemporânea vêm colaborar para criarmos uma representação da paisagem dirigida a estes eventos de pausa no espaço. Afastada da visão racionalista sobre a paisagem a representação artística se coloca como registro dos acontecimentos que estão alhures da funcionalidade programada das coisas no tempo rápido do período atual. Assim localizamos o tipo de representação artística que busca-se e exemplificamos, justamente para destacar a potência do assunto, as fotografias produzidas pelo artista Spencer Tunick que, desde 1992, registra a presença estática de grupos de pessoas nuas em espaços públicos: para suas fotografias os cidadãos são convidados a se reunirem em um lugar público específico, se despirem e posar; não havendo nesta mobilização nenhum tipo de seleção de sexo, cor ou idade.
O fotógrafo admite mover através de suas obras duas reflexões principais: (1) a introdução da arte em espaços públicos transformando temporariamente a paisagem urbana; (2) o modo como vemos a privacidade e a intimidade no espaço coletivo: se estabelece uma relação entre corpos, a arquitetura e a essência da cidade. A paisagem urbana é o horizonte da performatividade[3] necessária para que se produza o acontecimento: situamos eventos que já chegaram a mobilizar 20.000 (vinte mil) pessoas aproximadas, apenas por alguns momentos, sob o mesmo estado corpóreo, estáticas.
Observando as paisagens fotografadas por S. Tunick poderíamos enxergar “momentos que – apesar de sua instantaneidade – se opõem à imagem fugaz da aceleração. Elas contém o tempo, nos põem fora do seu fluxo incontido. Elas são uma suspensão” (PEIXOTO, 2004, p. 101). Evocamos um evento[4] tão pouco habitual da paisagem urbana e propomos que “através do acontecimento artístico na cidade, é proposta uma operação de lançamento do corpo humano da trama lisa possível no tecido urbano” (MARQUEZ, 2000, p. 87): o espaço liso espacializa a contingência como o lugar dos devires, daquilo que se localiza à margem da racionalização do espaço[5].
Entre muitos dos apontamentos geográficos que surgem no encontro de nosso olhar com essas representações da paisagem trazidas aqui, a que nos parece mais próspera residiria na observação daquilo que se instala como uma pausa no espaço da cidade; eventos que, entrementes, realizam uma operação efêmera na paisagem não-fixada[6]
É neste caminho que a pesquisa da paisagem pode, entre outros aspectos, apontar o deslocamento dos planos de ordenamento territorial, geralmente aplicados em grandes escalas, para a intervenção que o evento representa na paisagem urbana, suprindo a necessidade de se desenvolver perspectivas não unicamente balizadas por critérios técnico-científicos, mas também por fatores de natureza cultural e estética.
* texto produzido a partir do curso da disciplina 'formação do pensamento geográfico', coordenada por cassio hissa. ufmg, 2007.
[1] Algumas das idéias expressas neste projeto ligam-se àquelas esboçadas na pesquisa “Representações do espaço público e desdobramentos da praça Tubal Vilela”, monografia de graduação apresentada ao Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia em março de 2006.
[2] A viagem do artista alemão Johann Moritz Rugendas (1808-1858) pelo Brasil colônia entre 1822 e 1825 exemplifica claramente o contexto mencionado. Segundo Mattos (2004, p. 176), “como os demais viajantes do século XIX, Rugendas era compromissado com a documentação de um mundo desconhecido. Esse esforço documental incluía, porém, o registro da situação particular de percepção.(...) A tarefa de Rugendas não se restringia, portanto, à documentação de uma situação objetiva, envolvia o valor do dado sensório. O dilema do artista era: ‘como esclarecer um mundo que não se converte em impressões ordenáveis?’ De um lado, uma natureza incompreensível em exuberância e escala, além de uma urbanidade inabordável em sua complexa associação de padrões civilizados e ausência de civismo. De um outro, um artista estrangeiro, estranho, incapaz de demonstrar qualquer intimidade com o Novo Mundo. A solução se apresenta na adoção de procedimentos objetivistas da classificação científica. No lugar daquele conhecimento íntimo da natureza (...), Rugendas documenta a impossibilidade da realidade brasileira se converter em impressão. Com apoio do naturalista Alexander von Humboldt, Rugendaz fez publicar suas memórias da viagem pelo Brasil e transformou desenhos e aquarelas nas litografias do luxuoso álbum ‘Viagem pitoresca ao interior do Brasil’ (grifo nosso).
[3] “O performativo é uma comunicação que não se limita essencialmente a transportar um conteúdo semântico já construído e vigiado por um objeto de verdade” (Jacques Derrida). Este termo que já antecipávamos em gerúndio no título do projeto indica uma linguagem de interface que transita entre os limites disciplinares, um topos criado atravessando-se fronteiras.
[4] “O evento é uma manifestação corpórea do tempo, algo como se a chamada flecha do tempo apontasse e pousasse num ponto dado da superfície da Terra, povoando-a com um novo acontecer” (Santos, 2002, p.196).
[5] A leitura da paisagem considerando o corpo implica atestarmos a iminência da utopia como um lugar central para que entendamos de maneira mais sensível os tempos atuais. Cabe aqui ressaltar os esforços que Harvey (2004) realiza no momento em que se propõe a pensar nos corpos políticos no espaço global, valorizando o debate biopolítico para o conhecimento geográfico.
[6] Ao sinalizarmos as imagens aqui citadas como representações da paisagem contemporânea, compreendendo sua especificidade externa ao espaço cotidiano e sua manifestação da contingência, poderíamos também considerá-las, dialeticamente, como contra-representações da paisagem.
:::::::::referências bibliográficas
BACHELARD, Gaston. Introdução a dinâmica da paisagem. em ______. O direito de sonhar. Rio de Janeiro: Bertrand, 1994.
BASSANI, Jorge. As linguagens artísticas e a cidade: cultura urbana no séc. XX. São Paulo: FormArte, 2003.
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, 1997.
DELEUZE, G. e GUATTARI, F. O que é a Filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
______ Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. (5 Volumes) Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995-1997.
HARVEY, David. Espaços de esperança. São Paulo: Ed. Loyola, 2004.
HISSA, Cássio E. V. A mobilidade das fronteiras: inserções da geografia na crise da modernidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.
______ Categorias geográficas: reflexões sobre sua natureza. em Cadernos de Geografia. V. 11, n. 17. Belo Horizonte: PUC, 2001.
HISSA, Cássio E. V.; MARQUEZ, Renata M. Rotina, ritmos e grafias da pesquisa. em AR: revista de arquitetura, ensino e cultura. Coronel Fabriciano, v. 2, n. 2, p. 14-28, dez. 2005.
HUFTY, André. L’art du paysage et le géographe. Finisterra – Revista Portuguesa de Geografia, vol XXXVI, nº 72, Lisboa: 2001. disponível em: <>
MARQUEZ, R. M. Cidades em instalação: arte contemporânea no espaço urbano. Belo Horizonte: Esc. de Arquitetura e Urbanismo, 2000.
______ Arte e Geografia: olhar através de frestas. em COSTA, M. H.(org.). Imagens marginais. Natal: Ed. da UFRN, 2006.
MATTOS, Cláudia V. A pintura de paisagem entre arte e ciência: Goethe, Hackert, Humboldt. em Terceira Margem – revista de pós-graduação em ciência da literatura. ano lX, n. 10. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
disponível em:
MAXIMIANO, Luis A. Considerações sobre o conceito de paisagem. in Revista RA´E GA, n. 8. Curitiba: Editora UFPR, 2004.
disponível em:
PEIXOTO, Nelson B. Paisagens Urbanas. São Paulo: Ed. SENAC, 2004.
SALGUEIRO, Teresa B. Paisagem e Geografia. in Finisterra – Revista Portuguesa de Geografia, vol XXXVI, nº 72, Lisboa: 2001. disponível em: <>
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EdUsp, 2002.
ZUKIN, Sharon. Paisagens do século XXI: notas sobre a mudança social e o espaço urbano. em Arantes, A. (org.) O espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000.
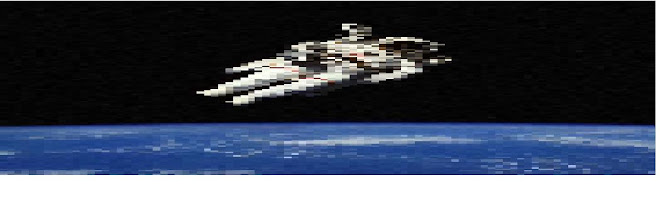
Nenhum comentário:
Postar um comentário